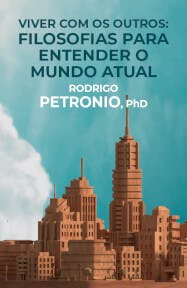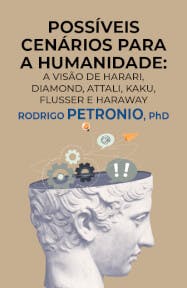Viver com os Outros | Parte 1 - Heidegger, Lévinas e Derrida

Por Rodrigo Petronio
Aviso: este material é uma transcrição do curso “Viver com os Outros”, realizado pela Casa do Saber e pelo professor Rodrigo Petronio. Por se tratar de uma transcrição, as frases não seguem necessariamente uma ordem ou linha de raciocínio semelhante às de um texto escrito.
Heidegger, Lévinas e Derrida
O ser, alteridade e o outro entendido de forma radical
Como hoje é nosso primeiro encontro, vou fazer um breve apanhado do que vamos ver ao longo dos oito encontros e depois nós entramos no nosso conteúdo mais específico de hoje.
Em primeiro lugar, no nosso primeiro encontro vamos falar de três pensadores, filósofos, vamos partir deles para poder chegar a algumas questões centrais do nosso curso, que são Martin Heidegger, um filósofo alemão, Emmanuel Lévinas, um filósofo lituano e Jacques Derrida, que é um filósofo argelino. Vou tentar fazer uma síntese bem compacta mesmo pra gente tentar entender qual é o problema levantado por eles, que é um problema comum aos três e uma questão filosófica que amarra todos os oito encontros e todos os autores e conceitos que vamos trabalhar aqui, que é o problema da diferença.
Nós temos, no século 20, o que chamamos de filosofias da diferença. Hoje a gente via fazer um retrospecto para entender de onde vem isso e quais as implicações muito potentes e complexas que decorrem desse novo tipo de pensar, dessa nova filosofia chamada filosofias da diferença – coloco no plural porque existem diversos tipos e linhagens, mas todas elas ligadas à questão da diferença.
De um modo geral, no próximo encontro vamos, depois de fundamentar nossos conceitos hoje, entrar em outros dois autores, Gilles Deleuze e Félix Guattari, dois autores centrais, no meu entendimento dois dos maiores pensadores e filósofos do século 20. Vamos falar um pouco da questão de desejo, de sujeito, e uma grande revolução que Deleuze e Guattari fizeram na filosofia, que é uma alteração radical do conceito de desejo e de subjetividade. Vamos falar um pouco sobre isso, mas eles vão criar o que se chama de teoria esquizo, que não se relaciona com o que nós chamamos, no sentido psicopatológico e psiquiátrico de esquizofrenia, mas é uma compreensão do humano, do sapiens, e de todo o processo de hominização e de formação da espécie humana e dos hominídeos que pressupõe esse desejo que tende a se multiplicar cada vez mais. Vocês já devem imaginar a importância que essa teoria tem para nós, já que estamos pensando em viver com os outros, ou quem são os outros que nos habitam, as multiplicidades de devires, como diz Deleuze, que são multiplicidades de agenciamentos, devires e transformação que estão dentro da subjetividade de cada um de nós e que nos atravessa e nos transpassa o tempo todo. Vocês já devem imaginar a importância desse tipo de teoria para que a gente possa pensar não apenas o viver juntos, mas pensar o outro mesmo em toda a sua amplitude e sua radicalidade.
Depois em seguida vamos para Judith Butler, uma das autoras mais importantes da chamada teoria queer, teoria de gêneros. Na teoria de gêneros isso é obviamente de questões de orientação sexual, de multiplicidade de gêneros, de flutuação do desejo, de constituição de identidade. Essa questão do outro está posta ali quase que no centro da teoria da Butler. E de todas as teorias de gênero de um modo geral. Então as nossas perguntas, os questionamentos que a gente vai se levantar são esses: o que é central, o que a teoria de gênero traz para que a gente possa reconfigurar, abrir novos horizontes, pensar no desejo e na subjetividade humanas, como eles se dão, quais são os modos de inscrição dessas subjetividades e quais as relação possíveis entre subjetividades e que constituem essa questão da orientação sexual, do gênero e tudo mais, todo esse processo de diferenciação que está pressuposto na teoria queer.
Ai, ato continuo, a gente vai falar no nosso encontro seguinte do Achille Mbembe, que é um filósofo negro, de Camarões, super expressivo hoje em dia nas teorias relativas à negritude, questões raciais, étnicas, e vou me ater bastante a um livro dele chamado “Crítica da Razão Negra”< que é um livro muito potente, que traz toda a problematização da formação disso que chamamos de “negro”, ou de populações afro-diaspóricas, e todas as implicações que isso traz para o reconhecimento do outro, para pensar questões de identidade, tanto das populações pretas afro-diaspóricas, que saíram da África e migraram principalmente para o continente americano, por conta de serem populações escravizadas, quanto também como também essa implicações e questões de identidade permeiam muito da nossa vida, dos não negros, também que é uma teoria interessante do Mbembe, que ele chama de “devir negro do mundo”, ou seja, é como se aqueles dispositivos e mecanismos que vieram junto com as populações pretas, de escravização, estivessem também dispersos no mundo de hoje e precisamos identifica-los para poder ter uma visão legítima, para poder ter uma relação de alteridade.
Essa palavra “alteridade” é central, sempre vou voltar a ela, porque é uma palavra que alinha todos os nossos temas e questões. Alteridade é conseguir acessar o outro enquanto outro, não enquanto simples projeção ou espelhamento de mim mesmo, ou um simples, como se diz, solipsismo, que é uma centralização do eu em relação a si mesmo. Então não posso incluir o outro nas minhas prerrogativas, nas minhas crenças, eu preciso entender o outro enquanto outro, e isso é a base da alteridade que vamos desenvolver aqui.
Aí a gente faz uma inflexão no curso a partir da Donna Haraway, que é uma bióloga e antropóloga americana, brilhante, eu acho o trabalho dela genial. Donna Haraway ficou muito conhecida por conta da teoria ciborgue, que é uma teoria que ela desenvolveu, principalmente a partir de um livro chamado “Manifesto Ciborgue”, e o ciborgue tematiza essa interface muito radical dos humanos com a tecnologia, ou, em outras palavras, essa dissolução da fronteira entre natural e artificial. Por isso que falo que o curso faz uma inflexão, porque aí temos que pensar o “outro do humano”, ou seja, quais os limites da alteridade do humano em relação a si mesmo. Como que as novas tecnologias, a biotecnologia, a engenharia genética e todas as alterações, as próteses artificiais, maquínicas, neuronais, algorítmicas, informacionais, como que todo esse grande avanço, esse grande horizonte que se abre agora com as tecnociências, como ele está reconfigurando a fisionomia do humano e como isso vai gerar novas demandas de identificação desse humano proteico, que está o tempo todo se transformando? E como isso vai alterar também a relação dos humanos entre si. Essa é uma questão central e Donna Haraway nos ajuda muito a pensar essa antropologia do ciborgue.
Na mesma linha, um filósofo contemporâneo alemão, Peter Sloterdijk, desenvolveu um conceito fascinante de antropotécnica. As antropotécnicas são todas as técnicas que alteram o “antropos”, ou seja, que alteram o estatuto da natureza humana enquanto tal. Isso, vocês devem já imaginar, dá um debate enorme de definição exatamente do que vem a ser o humano e sua relação com esse outro radical – essa outra fisionomia, subjetividade e processos que começam a emergir e que também são humanos. Essa que é a grande fronteira quando falamos de viver com os outros, é viver com os outros no sentido da multiplicidade de gênero, étnica, mas também da multiplicidade técnica também de outros devires, de outras subjetividades humanas que têm emergido a partir das novas tecnologias.
Estou pontuando alguns desses autores, mas vou também trazer aqui à tona outros autores e teorias para cruzarmos essas teorias e autores e entender justamente o problema e a questão que está em jogo. Num mesmo sentido e já se encaminhando mais para o final do nosso curso, há um filósofo muito instigante chamado Vilém Flusser, que viveu 30 anos no Brasil. Flusser é um dos principais teóricos, acho, do século 20 de tecnologia, de fotografia, de imagens, muito conhecido nessa área. Existe aí uma teoria paralela de Flusser, no final da vida dele ele vai escrever um livro em alemão chamado “Hominização”, ou seja, a formação dos hominídeos, e antes disso ele tem um livro chamado “Vampyroteuthis Infernalis”, vamos falar um pouco sobre isso. Vou deixar em suspenso como uma espécie de convite para vocês. Esse livro do Flusser, e boa parte da obra do Flusser de forma geral, explora os limites da consciência. Ou da mente. Só que ele tenta transbordar o conceito de mente par aalém do humano e do antropocentrismo. Será que nós não temos, poderíamos pensar numa mente coletiva? Ou será que o conceito de consciência se restringe estritamente ao humano e não pressupõe o que, hoje em dia, tem se chamado de “oceano da consciência”. Será que não existe uma gradação na natureza quer diz respeito muito mais a uma distribuição, uma consciência distribuída entre diversos seres e outros seres vivos, incluindo o humano, ou será que essa consciência é de fato privativa, só faz parte do humano, e tudo que o humano diz que é consciente no fundo é só uma projeção dele mesmo em outros seres? É uma questão que atravessa a história da filosofia e da ciência modernas – da filosofia, desde a filosofia antiga – e a filosofia e as ciências contemporâneas, que têm se havido com essa questão. Sempre procuro seguir aqui o William James, que diz que não é possível haver um “intervalo da consciência”: se existe a consciência, ela está se formando desde a origem do Universo. Então quer dizer que não existe um corte, uma cisura, de modo que possamos isolar o ser humano de todos os demais processos cosmológicos. Então quer dizer que a consciência não é estrita do humano.
E aí entramos já, tensionando ou tangenciando esse tema, para a questão do último encontro. A partir do Carlo Rovelli, cosmólogo italiano e grande divulgador científico - os livros dele têm se tornado best-sellers, ele faz uma divulgação científica de altíssima qualidade -, é um cosmólogo muito respeitado no meio acadêmico, e a partir dele e de outros autores de cosmologia e teoria quântica, a proposta é pensarmos, nos abismarmos, naquilo que seria um Universo virtualmente infinito em sua extensão (como um Universo de trilhões de galáxias), e um Universo virtualmente infinito na sua dimensão subatômica, na sua infinita divisibilidade. Então o que é o outro do humano dentro desse ponto de vista cosmológico, se nós sequer sabemos quem nos somos dentro deste Universo e quão pequenos nos tornamos diante de uma imagem tão avassaladora e abissal desse jeito. Estou usando muito a palavra “abismo” e “abissal” porque o novo livro do Carlo Rovelli, que ele acaba de publicar, se chama justamente “O Abismo Vertiginoso” e é uma investigação sobre teoria quântica. Então o que é, sem nenhum tipo de mistificação ou esoterismo quântico, tomando simplesmente as prerrogativas de alguns teóricos da física quântica, o que elas têm a nos dizer sobre nosso Universo e o outro do humano. Tudo isso vai se abrir e são momentos, questões para explorarmos nos nossos encontros.
Esse arco todo que eu trouxe é só uma pequena, hoje, abordagem. Vamos nos ater bastante a cada um desses pontos e autores. Dividimos o curso por autores, mas é claro que eles funcionam como guarda-chuvas – debaixo deles há outros debates e movências de conceitos obras, de um modo mais transversal, e é isso que vou pretender fazer, propor aqui para a gente. Esse é o arco então que é tensionado.
Quando a gente fala, como mencionei no começo, de “viver com os outros”, ou de “outro”, o primeiro ponto que precisamos entender é fazer uma espécie de pequena história de o que é esse outro, ou como o pensamento elaborou essas categorias para que possamos adentrar nos séculos 20 e 21 com certa solidez e entender um pouco de onde vêm as acepções desses conceitos. Para podermos compreender essa questão do outro, da alteridade, precisamos retornar à filosofia da antiguidade, principalmente para Aristóteles, para pensar algumas categorias fundamentais – entre elas, uma das grandes dualidades, ou um dos grandes conceitos complementares da filosofia, que são os conceitos de identidade e diferença, e é por isso que vou fazer esse preâmbulo para chegar naquilo que chamamos de filosofias da diferença.
Como a gente pode pensar essas filosofias, esses dois conceitos. Existe uma dialética entre esses conceitos de identidade e diferença. Como podemos pensar essa dialética? Ela se daria da seguinte forma.
Para que o Rodrigo seja Rodrigo, é preciso, ou seja, para a construção da identidade do Rodrigo é preciso que haja dezenas, centenas, milhares de pequenas especificidades que se colam no Rodrigo e constituem o que a gente poderia chamar de “rodriguidade” do Rodrigo – aquilo que seria inalienável, intraduzível e que constitui, me constitui como um ser humano vivo do século 21, sentado aqui nessa cadeira. Vocês percebem que a dialética já começa na própria categorização? Porque são infinitas diferenças que, projetadas em mim, fazem com que eu tenha a minha identidade, com que eu seja aquilo que eu sou. Como Aristóteles pensa essa base dessa construção, desse conhecimento sobre a realidade?
Em primeiro lugar a gente precisa entender que lá em Aristóteles existem dez categorias. São ferramentas conceituais que nos possibilitam pensar tudo. Então, basicamente, por que ele pensa dez categorias? A partir delas é possível pensar tudo que existe. Isso está em “Metafísica” e outros momentos da obra do Aristóteles, e essas definições dessas categorias vão atravessar todo o pensamento ocidental. As categorias, enfim – quantidade, qualidade, tempo, espaço, causa, lugar, posição, relação, substância... Fechei quase as dez. Dessas dez, qual a mais importante para Aristóteles? É a categoria de substância. Porque a substância é aquilo que define o ser em si mesmo. Cada ser em si mesmo é definido pela substância. Todas as outras categorias podem flutuar. O Rodrigo poderia estar em outro espaço, outro tempo, ter outra causalidade envolvida em sua vida, poderia estrar envolvido em outras relações, poderia ter outras quantificações em termos orgânicos, poderia ter outras qualidades morais, ou seja, todas as outras categorias flutuam. Só que existe algo que é a substância do Rodrigo que não flutua e que sempre permanece a mesma. Então a gente pode pensar numa árvore: ela é uma substância. Para Aristóteles, todos os seres são substâncias, só que essas substâncias têm diversos modos pelos quais podem variar, só que existe uma certa “arvoridade” da árvore, que depois os medievais vão chamar de “quidditas”, a “quididade”. A “arvoridade” da árvore, ou seja, há algo, a substância daquela árvore é distinta da substância de outra árvore que está do lado dela, e de outra, e de outra.
Por que isso é tão importante? Porque esse raciocínio que é relativamente simples, mas, no fundo, é uma espécie de pedra fundadora de toda a filosofia ocidental, é o que chamamos de metafísica da substância. Ou seja, todos os seres são determinados, em última instância, por sua substância. Sua substância, a substância de cada ser é alterada e variável infinitamente a partir das nove, oito categorias, mas a base é sempre a mesma, digamos assim, em certo sentido, porque existe alguma coisa de substancial que não muda e, por isso, a árvore é sempre árvore, o homem é sempre homem, o humano é sempre humano e assim sucessivamente. Vocês já devem ter uma ideia de como isso vai adentrar e se unir às teologias abraâmicas (cristianismo, islamismo e judaísmo) e como o ser humano vai começar a ser definido nessa dupla articulação (de Aristóteles e as teologias). Qual vai ser a principal definição do ser humano? O ser humano é uma relação de matéria e forma: a matéria é o corpo – tudo aquilo que está em devir, que se transforma, se altera, que recebe agregados, que tem a variabilidade das nove categorias; só que existe a substância do humano que determina sua singularidade, ou seja, a alma do humano. A relação entre matéria e forma é basicamente pensada na relação entre corpo e alma. E a alma adquire esse estatuto de uma substância eterna e imutável. Isso é também central. A gente pode dizer que toda a filosofia medieval gira em torno dessa noção de que existe algum resíduo, alguma unidade, alguma substancialidade em cada ser, sobretudo nos seres humanos, e que essa substância é que determina o que cada ser é, a despeito da variabilidade constante de onde esse ser humano singular tenha nascido etc.
Ora, vocês jpa devem também estar imaginando um problema que existe por trás dessa pressuposição. Primeiro problema se todos os seres têm uma substância eterna, não existe devir. Ou seja, os seres não se transformaram, eles foram criados todos prontos. Como podemos imaginar que todos os animais se transformaram, os humanos se transformaram, todo o devir da espécie, toda a transformação da hominização, todo d processos dos hominídeos, todo o processo biológico de 530 milhões de anos atrás, do pré-cambriano, desde que a gente tem os primeiro unicelulares que vão formando organismos, que formam e configuram toda a complexidade, a maravilha, o espetáculo da vida, como diz o Richard Dawkins. Tudo isso depende de uma diferenciação, de um processo de diferenciação da vida. Se todas as substâncias que caracterizam cada ser singular, se cada substância, cada ser singular é caracterizado por uma substância eterna, quer dizer que existe algo que não muda, que é essa substancialidade, sobretudo, dos seres humanos e que é caracterizado como a alma imortal. Por que isso é um problema e por que toda a filosofia moderna, a partir de Leibniz, principalmente, que é um grande filósofo do século 17-18, por que toda a filosofia moderna começa a entender isso como um problema? Ora, porque quer dizer então que temos uma identidade, a identidade do Rodrigo é caracterizada a partir da alma imortal do Rodrigo, e todo o resto são propriedades que vão se colando a essa identidade, como se essas propriedades não alterassem a essência do Rodrigo, a essência de cada qual, cada ser humano e de cada ser substancial, cada ser vivo.
O problema que começa a se colocar é basicamente o seguinte: ora, mas então se, uma pessoa da Nova Guiné, que tem um processo subjetivo totalmente diferente, fala uma língua totalmente diferente, tem uma relação com a sexualidade totalmente diferente, tem uma relação com as divindades e com os deuses, tem uma cosmologia diferente (como se diz em antropologia hoje em dia), todas essas diferenças desse habitante da Nova Guiné, ou de um ameríndio da Amazônia, todas essas diferenças que configuram a cultura desse indivíduo, são então secundárias? Então cada um desses indivíduos, no fundo, são definidos por algo que é eterno e que é alguma coisa que não muda? Então vejam qual o problema: é como se as diferenças, o conceito de diferença, fosse superficial e secundário, e a identidade é formada o tempo todo por essa substância imutável. E as filosofias contemporâneas vão contestar radicalmente isso. Ou seja, é preciso entender que o processo de diferenciação dos seres, o modo pelos quais os seres se diferenciam, seja em termos culturais, fisiológicos, fisionômicos, existenciais, geográficos, linguísticos, geológicos e X tantos outros adjetivos que a gente possa elencar, todos esses modos de diferenciação alteram a essência do ser enquanto tal. Ou seja, o próprio modo pelo qual o Rodrigo é Rodrigo e que não existiria algo que seria exatamente descolado desse processo de diferenciação.
Então o fato de eu falar uma língua distinta me coloca num recorte de mundo distinto, eu tenho uma experiência existencial distinta, uma orientação sexual distinta, uma etnia distinta, e tudo isso não é simplesmente algo secundário, tudo isso altera de fato a essência dos seres humanos enquanto tais. A gente teria muita coisa pra falar nessa linha, mas só quero trazer um pouco de onde vem esse problema, porque ele começa a ser revisto e se torna praticamente um problema de fundo de todo o pensamento moderno, até, desde Leibniz, mas ele vai voltar em Hegel, no idealismo alemão do século 19, e depois vai adentar todo o século 20 como o grande problema. Ou seja, como é possível pensar a diferença enquanto tal? Os processos de diferenciação enquanto tais, e não simplesmente imaginar que exista ali um resíduo, uma substância eterna e imutável que assegura que o Rodrigo, que existe uma substância no Rodrigo que nunca vai mudar.
Vejam, se nós pensarmos do ponto de vista cosmológico, o Universo também tem um vetor de tempo. O Universo está mudando o tempo todo, as galáxias, as estruturas, todas as estruturas materiais, não é só a vida que está em devir e transformação, o cosmos também. Nós temos aí 13,8 bilhões de anos da origem do Universo, ou da época cósmica que vivemos, mas, no fundo, todos os seres estão vetorizados diante do tempo, ou seja, tudo está em constante transformação.
Então esse tipo de visão da metafísica da substância é muito sofisticado, atravessa o Ocidente todo, mas tem uma dimensão um pouco frágil em algumas formulações um pouco mais simples, porque não contempla a ideia de que, no fundo, o Universo, a vida, o cosmos é um turbilhão de energia que está o tempo todo se transformando. Como vamos dizer, então, que algo possa se preservar para além e que esteja fora desse turbilhão, desse vórtice de energia que está o tempo todo se transformando?
Aí então nós temos também, talvez, os primeiros momentos de grande impacto que essa teoria, essa noção da metafísica substancialista... Sempre que eu usar esse termo, “metafísica da substância”, refiro-me a isso, a essa hipótese que a gente acabou de construir aqui. Ela vai reaparecer, por exemplo, na Judith Butler, que vai pensar os gêneros, tentar pensar a variedade de gêneros fora dessa metafísica da substância, porque pode ser uma grande armadilha. Como vou definir a essência de um humano, sendo que, no fundo, tenho que pensar justamente na flutuação de gênero, não na substância que configura o humano enquanto humano nesse sentido que acabei de dizer. E em vário soutros autores.
O grande corte, uma cisura importante nessa metafísica da substância, é Kant, óbvio. Um filósofo do esclarecimento alemão, Immanuel Kant, que vai quebrar - costuma-se dizer que Kant é o primeiro crítico do pensamento metafísico, ou seja, dessa metafísica da substância – justamente porque vai dizer que isso que a Antiguidade e os medievais chamavam de substância última do ser, isso é inacessível. No fundo isso foi uma grande ilusão, nós não conseguimos acessar a essência última dos seres. Isso é o que Kant vai chamar de “númeno”, o que ele chama de “coisa em si”. Essa “rodriguidade” do Rodrigo, “arvoridade” da árvore, isso pra Kant é inacessível. Dentro das prerrogativas da razão kantiana, o fato de acreditarmos que estamos acessando a essência das coisas é uma grande ilusão, chega a ser irracional. Kant então cria as chamadas antinomias e separa a noção de “coisa em si” (essa ideia de substancialidade, de essência do real) e os fenômenos. Nós só acessamos fenômenos. É uma grande arrogância do pensamento imaginar que somos capazes de acessar a essência da realidade – isso que o Kant chama de coisa em si.
E depois Hegel vai fazer uma desconstrução (já começamos a usar bastante o termo desconstrução), ele vai propor uma grande desconstrução dessa filosofia substancialista. Também é um assunto muito grande, aquelas notas de rodapé que viram um abismo e vai embora. Hegel é um dos maiores filósofos de todos os tempos e, resumindo bastante a questão da lógica hegeliana, a questão básica que Hegel vai trazer é a seguinte: para que haja essa definição lá de Aristóteles, da “quididade”, da essência das coisas, a “arvoridade” da árvore, é preciso que haja um tipo de lógica específica, que é a lógica aristotélica, base de todo o pensamento ocidental até o século 17 e 18. O que é essa lógica? É uma lógica da não-contradição, uma lógica em que a medida em que defino A e B, eu tenho que definir condições de identidade e de diferença para definir o que seja A, e estabelecer condições também para definir o que seja B.
Então se tenho duas árvores, elas têm suas especificidades. A árvore A tem sua quididade, uma substancialidade específica, e a árvore B tem uma substancialidade específica. A não pode ser B e B não pode ser A – essa é a lógica da não contradição. Vejam só qual a revolução impressionante de Hegel: ele vai propor uma lógica da contradição. Porque dentro do espírito, dentro do movimento absoluto do espírito, que é a grande categoria hegeliana, em algum momento do tempo e do espaço, A já foi B e B já foi A. Ou seja, é como se houvesse, a gente tem que pensar isso numa espécie de vetor negativo, um princípio de infinitzação do Universo e, se esse Universo vai se infinitizando, há um momento em que essas duas árvores vão se tocar no infinito, porque o Universo é infinitamente subdivisível. É isso que Hegel vai chamar de infinito negativo, ou de regressão infinita negativa.
O que isso coloca para nós como problema? Um problema bombástico: quer dizer que o mesmo, um ser, traz implicado em si o outro. E o outro está implicado no um, que o traz em si implicado. Então isso é a base, o coração da lógica hegeliana, que vai dar toda a base do marxismo, da teoria marxiana, está no coração da teoria de Marx, que é observar o mundo a partir de suas infinitas contradições, a sua infinita subdivisão e de como uma contradição pode implicar outras contradições, porque no fundo temos dois fenômenos, e esses fenômenos A e B não são necessariamente não contraditórios, eles podem ser contraditórios porque, em algum lugar da existência, em alguma região do absoluto, esses fenômenos se tocam.
Vocês podem dizer “bom, Rodrigo, isso é algo absolutamente irracional” e eu vou dizer que é exatamente o contrário. Hegel é um dos sistemas racionais mais potentes que já foram produzidos na história da filosofia ocidental, e todo o sistema hegeliano é uma lógica racional. E agora eu dou um exemplo de como essa hipótese de como essa hipótese de que A e B são o mesmo é absolutamente científica no sentido da própria teoria de Darwin.
Cada um de nós nessa sala, e cada um dos humanos que caminham sobre a Terra hoje, já foram um único unicelular no oceano 530 milhões de anos atrás. Quer dizer que em todas as formas de vida, por maiores ou mais diversificadas que sejam, em algum momento essas formas de vida já foram únicas. Da mesma forma que hominídeos já foram... Nós temos aqui nossos primos, os primatas, os grandes primatas, os bonobos, os chimpanzés, orangotangos. Nós já fomos primatas superiores, nós temos toda a linha de especiação da vida, que vai produzindo uma diferenciação da vida, só que se pensarmos nessa regressão infinita no sentido da vida, nós já fomos unicelulares. Assim como tudo que existe no Universo do ponto de vista de trilhões de galáxias, bilhões e trilhões de sóis, já houve um ponto de singularidade, que é o que se chama de Big Bang, que é um momento de altíssima e infinita densidade do Universo em que, na verdade, toda essa diferenciação já estava lá contida dentro de uma informação nuclear e celular primeira, primeva, que foi propiciadora da existência desse Universo enquanto tal.
Então vocês veem qual a complexidade da teoria hegeliana nesse sentido. Ele está imaginando que no fundo não existe uma divisão entre o eu e o outro. Em algum momento o eu foi ou é o outro, e o outro me é. Porque em algum momento dessa regressão e subdivisão, estamos profundamente coimplicados. Isso num nível humano e no nível das consciências é o que Hegel vai chamar de teoria do reconhecimento.
Eu só consigo me constituir como sujeito quando percebo que o outro está me atravessando e que eu não consigo me pensar sem pensar uma vinculação profunda com o outro, e vice-versa. Então essa relação de espelhamento profundo e radical entre o eu e o outro caracteriza uma visão bem diferente do que é alteridade, ou seja, de como é pensar o mundo. Porque da mesma maneira que posso imaginar que todos os seres vivos que existem hoje, desde girafas, elefantes, orangotangos, humanos e bactérias, eles devêm de um mesmo ser unicelular, isso também tem uma coimplicação de que, no fundo, nós nos diferenciamos, mas nós temos algum resíduo. Algum não, nós temos uma estrutura comum que é extremamente profunda.
Aí a gente entra, então, nesse tipo de reflexão que é essa reflexão que praticamente marca todas as teorias e filosofias da diferença, e as filosofias da alteridade do século 20. Boa parte dessas filosofias vêm de Hegel, a começar por Martin Heidegger, que é esse primeiro autor que sugeri como uma reflexão em torno dele.
Vou tentar resumir bastante também a questão posta pelo Heidegger. A questão básica de Heidegger diz respeito também a uma revisão da filosofia desde a Antiguidade. Heidegger era extremamente erudito, existem transcrições dos cursos de verão que ele dava sobre autores gregos, mística medieval, autores medievais também, uma obra reputada em 80 volumes mais ou menos, mas a base heideggeriana, a pergunta fundamental dele é a seguinte: ora, será que, então, quando falamos dos seres, será que não estamos contaminados por essa metafísica da substância? Vou dar um exemplo bastante simples também que é dado por Heidegger na sua “Carta sobre o Humanismo”.
Como definimos o ser humano? Um animal racional. Vejam, não estou nem usando mais a definição metafísica medieval, que o ser humano é um agregado de corpo e alma, uso uma definição científica, moderna. Qual o problema dessa formulação para Heidegger? É como se eu estivesse separando duas peças (animalidade e racionalidade), eu colei essas duas peças e defini “isso é estrutura do humano”. A hipótese heideggeriana é que isso não define o que é a estrutura fundamental do ser humano, é como se eu estivesse pegando duas peças e colando. Essas duas peças são o que Heidegger chama de “entes”: cristalizações do mundo. Quando digo “isso é animalidade”, “isso é racionalidade”, “isso é alma”, “isso é o corpo”, “isso é uma ideia”, “isso é um conceito”, “isso é o bem”, “isso é o tempo”, “isso é matéria” – são conceitos. Categorias, conceitos bastante amplos, complexos, que forneceram bases de construção para todo o edifício da filosofia, do pensamento e da ciência.
Só que Heidegger identifica aí uma questão central. Será que quando nos relacionamos com esses conceitos, não estamos já nos relacionando com entidades previamente prontas? Ou, formulando de outra maneira, será que não existe todo um processo que é interno à própria filosofia de “entificação”, de cristalização dos seres, processos, da vida, do humano? E que nós já lidamos com essas cristalizações, essas entificações, de uma maneira praticamtene instrumental? Ou seja, colamos lá “racionalidade”, “humano”, animal racional, mas não estamos investigando exatamente a essência do humano, estamos colando dois entes. E isso vai ser a grande desconstrução da filosofia ocidental que Heidegger vai propor. No “Ser e Tempo” ele tem uma expressão em que diz que está se propondo a “uma destruição fenomenológica da filosofia” e que, no fundo, está tentando pensar a partir de outra chave que não seja a que ele vai designar e definir como uma “chave entitativa”, ou seja, de cristalização e definições dos seres, e depois de junção desses pedaços que foram cristalizados e divididos para a configuração de oturos seres ou da compreensão do mundo enquanto tal.
A pergunta que fica é a seguinte: qual seria o radical, qual seria o outro, qual seria o fundamento do humano, então, já que não podemos pensar o humano no modelo entitativo? Aí a pergunta de Heidegger é justamente sobre o ser: é preciso pensar os seres, o ser, o ser humano, incluindo todos o seres – é isso que chamamos de ontologia. Heidegger vai construir, ou criar uma nova ontologia a partir de uma crítica ou de uma desconstrução de toda a filosofia que veio antes, no sentido de dizer o seguinte: talvez haja alguma região mais originária – esse o termo que ele usa – em que ainda não houve a separação desses seres enquanto seres, ou seja, não houve a entificação. Essa região originária é anterior a uma divisão entre sujeito e objeto. Eu observo isso, isso daqui é um objeto, eu posso ficar observando esse objeto, mas já há uma separação da minha consciência em relação a mim e esse objeto. Todos os objetos técnicos, materiais que nos cercam, nós temos uma relação de objetividade, de separação com esses objetos, e por isso se tornam objetos técnicos, manipulados pela mão.
Heidegger vai pensar que então é preciso, para sair desse modelo, que é o modelo que já foi cristalizado ao longo da filosofia ocidental, ao longo de 2500 anos de filosofia, é preciso investigar essa região mais originária, em que ainda não houve essa separação entre sujeito e objeto. Tem que pensar a partir daqui. Hegel está aqui. Como Heidegger vai definir essa região originária? Ele vai dizer que essa região, uma outra acepção de ser que ainda não foi entificado. Ou seja, uma dimensão do ser que ainda não assumiu a qualificação de ente, ou seja, que não foi cristalizado ainda. Então, essa fissura, é quase como se fosse um rasgo na realidade, a filosofia heideggeriana, muitas das metáforas que podemos usar são “fissura”, “fratura”, “rasgo”... Esse rasgo na natureza, na existência, é um rasgo que costumamos chamar de diferença ontológica. É como se tivéssemos que pensar o mundo, mas pensa-lo a partir de uma região em que esse mundo ainda não foi codificado, e é isso que seria essa região originária. Por que a diferença ontológica? Voltamos à questão da diferença e toda essa trajetória da diferença, da relação entre identidade e diferença na filosofia ocidental.
A filosofia de Heidegger é uma filosofia que tem uma tinência, ou um interesse muito profundo pela questão da diferença, ou seja, dessa outra dimensão, desse outro lugar em que as coisas ainda não foram configuradas. Essa diferença ontológica é que nos interessa aqui. Por quê? Já tentando fechar um pouco o assunto. Quando nós tentamos pensar o outro, nós temos já diversas cristalizações acerca do que esse outro é. Nós temos diversas cristalizações psíquicas, culturais, afetivas, e o chamado heideggeriano, a pergunta heideggeriana é de como desconstruir essas diversas entificações, cristalizações acerca do que o mundo seja. Vocês percebem o nível de radicalidade desse pensamento? É como se eu tivesse o tempo todo de tocar o mundo pela primeira vez, porque não sei o que o mundo é. Estou no originário, numa região que é sem fundo. Muitas metáforas, por exemplo, de ausência de fundo, de solo, de fundamento... O infinito hegeliano aqui operando. Eu não fundamento e fundo porque não sei exatamente de onde estou falando. E, mais do que isso, eu não consigo definir o outro se eu não imaginar que estou sendo atravessado por esse outro o tempo todo, porque esse outro está se convertendo em mim e eu estou me convertendo no outro o tempo todo, constantemente, infinitamente.
A partir dessa visão, e como Heidegger chegou a essa visão. Então essa chamada ontologia da diferença, ontologia diferencial, tem um longo percurso, nos cabe aqui abordar isso, mas uma das bases heideggerianas é o conceito de existência. As filosofias da existência, que são diversas – o existencialismo francês, Sartre, Camus, entre outros, são uma linha dessas filosofias da existência, mas, se formos retroagir, Santo Agostinho pode ser considerado um filósofo da existência, Pascal, Kierkegaard, o dinamarquês - são todas leituras de Heidegger. E Heidegger vai pensar essa noção da existência como a categoria central. Quem existe, existe num lugar específico e circunstancial, nãpo existe existência abstrata. Se não existe existência abstrata, eu existo aqui nessa cadeira, nessa poltrona, não existo em abstrato. Para que eu possa existir em outro lugar, devo existir em outro lugar. Quer dizer que minha relação com o espaço circundante é diferente e vai constituir outro nível de existência. Aqui estou tocando esse feltro, essa superfície. Essa superfície é específica. A posição do meu corpo aqui é específica. A categoria de existência é radicalmente fática. Fático é tudo aquilo que está ligado a uma determinada circunstância, a um meio circundante absolutamente, radicalmente situado. Não existe nada abstrato. No momento em que eu me levante dessa cadeira, saia, entre num carro e atravesse a cidade, estou mudando de meio circundante. Mudando de mundos, como diria Heidegger. Quer dizer o quê? Por que essa ideia da existência é tão importante para se chegar a essas filosofias da diferença, ou para se pensar a filosofia da diferença?
Porque, justamente, a partir desse lugar existencial, até de fragilidade do ser humano, é que Heidegger vai valorizar esse luar existencial, fático, circunscrito, situado, como um lugar privilegiado para que emerja essa outra cetegoria de ser. Ou seja, para que emerja, para que a gente acesse essa outra região, digamos assim, que é a região do originário. Por que ele faz essa ilação? Por que o ser humano, existente, reflexivo dentro de usa existência, por que ele consegue acessar o ser nessa outra região? Justamente quando ele percebe a vacuidade e o vazio da sua rópria existência. Então, no momento mesmo... Reconstruindo o processo todo.
Eu não consigo mais me relacionar com coisas, com entes, porque percebo que os entes não são exatamente aquilo que eu imaginava que fossem. A entificação é o modo pelo qual o ser humano vai capturando, vai codificando o mundo para deixar o mundo domesticado, para que ele fique tranquilo. A filosofia heideggeriana é uma filosofia de naufrágio, é quando essas coisas e seres começam a aparecer e se apresentar sob outra faceta. Quando percebemos isso, isso gera uma grande angústia, porque eu não sei nem mais quem é exatamente a minha esposa, com quem eu convivo todos os dias em casa, porque eu desentifiquei a minha esposa. Ela não é mais aquele ser, aquela série de signos petrificados e cristalizados. Ela é um evento, alguma coisa que não sei exatamente o que é. Mas isso ocorre com ela, assim como ocorre com outros seres humanos e não humanos que me cercam. Isso é a consciência dada pela posição existencial heideggeriana, isso abre um buraco, como se fosse uma espécie de naufrágio, porque estamos nos agarrando sem saber exatamente onde nos agarrar, e esse naufrágio nos leva à angústia. Só que, no sistema heideggeriano, a angústia é o primeiro caminho para o acesso ao ser. Para esse ser de segunda ordem que é esse ser diferencial, porque já foi descolado da entificação, ou seja, o processo de desentificação do ser.
Esse ser que se revela traz algo que é muito potente, porque isso seria a experiência da autenticidade. A experiência da autenticidade do pensamento, do espírito, da subjetividade, de toda a vida e de tudo aquilo qeu a gente pode produzir de potente na vida é a experiência da autenticidade no sentido heideggeriano, mas ela traz consigo essa chancela, ou essa marca, essa cicatriz da angústia, que é justamente a angústia dessa travessia por esses escombros e essas diversas deteriorações desse mundo que não é mais o mundo como o conhecíamos, e passa a ser outro mundo.
Já para a gente se encaminhar para um fechamento, depois eu vou retomar esses temas ao longo dos outros encontros, porque todos eles estão amarrados, essa filosofia de Heidegger pode ser considerada como a filosofia tecnicamente de uma filosofia da diferença porque, à medida que cada ser se diferencia dos outros no seu ambiente existencial, ele percebe usa fragilidade. Ao perceber sua fragilidade, está mais próximo de se descolar do mundo tal como ele o conhecia. Ou seja, a gente tem uma atitude reflexiva de não entificar e não coisificar mais as coisas e os seres humanos. Isso gera angústia e a angústia é o caminho para a revelação dessa outra modalidade de ser que tem a ver com a autenticidade do pensamento. Essa é uma filosofia da desconstrução, porque no fundo a base heideggeriana é uma grande desconstrução de todos os sistemas e todo o nosso modo habitual e natural de habitar o mundo. É como se a gente tivesse de desnaturalizar e ver o mundo o tempo todo pela primeira vez.
E por que estou marcado essa palavra “desconstrução”? Porque isso vai dar ensejo a dois autores que a gente tem hoje também, que estão dentro da nossa abordagem de hoje, que são Lévinas e Derrida. Dois grandes leitores de Heidegger. Lévinas é um filósofo que está muito ligado à noção de infinito e de alteridade. Tem uma metáfora muito bonita de Lévinas, que ele chama de “epifania do rosto”, aquilo que faz com que nós acessemos o infinito. Eu não consigo acessar o infinito por meio de objetos, apenas por meio do rosto do outro. Essa epifania do rosto no Lévinas, e por que ele valoriza isso, é porque ele foi trazendo à tona uma categoria que é extremamente importante e que foi muito negligenciada, que é o conceito de infinito. Na mesma linha de Heidegger, o que Lévinas quer fazer? Ele está imaginando que existiu um predomínio, uma hegemonia do conceito de totalidade. As filosofias desde a Antiguidade até o século 19 são filosofias que trabalham muito com a noção de totalidade (do Universo, dos seres, a definição totalizante do ser humano), e Lévinas está lendo Heidegger e pensando numa outra questão: será que não precisamos acessar outra, quase que desconstruir essa totalidade para compreender o ser humano a partir de outra matriz, de outro ângulo de visão? Para acessar, desconstruir, desfazer, desenovelar essa totalidade, como fazemos? A partir da alteridade, da relação do rosto, com o rosto do outro, e acessando o infinito. A relação no Lévinas entre infinito e subjetividade, entre relações intersubjetivas e infinito, entre alteridade e infinito, é muito bonita e um dos capítulos mais bonitos do “Totalidade e Infinito” é quando ele vai falar do amor. A relação amorosa tem que transpassar o outro, mas eu tenho que me jogar. Eu não sei exatamente onde eu estou. Estou numa coisa que não tem começo, nem fim. O que é o amor? É um ente? É o primeiro problema heideggeriano, como eu defino “amor”? Não é um ente, não é uma coisa, como eu pego? Alguém já pegou amor na mão? Então esse atravessamento é que é a alteração básica que Lévinas vai se propor, seguindo os passos de Heidegger, e depois também, na mesma linha, um autor também muito importante e central para nós pensarmos essas questões, que é esse filósofo argelino, Jacques Derrida.
Derrida também atravessou... Heidegger morreu nos anos 1970, Derrida morreu no começo dos anos 2000, então estamos pegando uma linha de pensamento que vem até os dias de hoje. A base do Derrida, ele é um dos criadores do que é chamado de filosofia da desconstrução, e a gente tem muitos equívocos e superficialidades quando se fala de filosofia da desconstrução, é preciso muito cuidado. O que Derrida vai fazer, geralmente se associa filosofia da desconstrução ao que se chama de pós-modernidade, como se não tivesse nenhum critério, não é absolutamente nada disso... O que Derrida vai dizer é o seguinte: ora, essa metafísica da substancia, isso que vem lá dos gregos, de Aristóteles, conferiu uma estabilidade, uma certeza muito fortes e muito perigosas. Então quando a gente tem muita certeza sobre alguma coisa, para o Derrida já temos que dar um passo atrás, porque aí tem algum problema rolando. A questão básica de Derrida, um conceito central da filosofia dele, é o conceito de “indecidibilidade”: se eu entendo o que é o certo e o errado, eu já estou errado, porque preciso pensar no indecidível – existe alguma nuance entre o certo e o errado que ainda não captei. Eu preciso entender e explorar um pouco essas nuances e essa esfera do certo e do errado. Estou dando um exemplo, um exemplo ético, comum do nosso cotidiano, mas isso vale para todas as dimensões do pensamento e do conhecimento. Então todas as dicotomias, todos os dualismos, todos os binarismos, como vai dizer Judith Butler depois na questão de gênero, precisam ser recodificados, repensados, porque sempre que temos uma visão clara e distinta sobre dois termos antagônicos, por exemplo, alguma coisa errada existe, porque no fundo é sinal que não inspecionei, não vi o cromatismo, todas as nuances que existem entre os dois termos. Esse campo nuançado é o que Derrida vai chamar de indecidibilidade. Só fazendo uma hipótese para a gente compreender bem a implicação disso.
Tem um diálogo cosmológico de Platão chamado “Timeu”. Todos nós sabemos a teoria das ideias de Platão – existe um mundo sensível, um inteligível, Platão não é um dualista, há uma gradação entre esses dois mundos -, mas existe ali um problema intermediário: quando exatamente começa e termina o mundo das ideias, do mundo inteligível, e começa o mundo sensível. Esse mundo intermediário vai ser trabalhado na cosmologia, no “Timeu” de Platão, e há um termo grego chamado “kora”, que Platão usa nesse diálogo. Derrida pega esse termo e escreve um ensaio chamado “Kora”, para investigar o que é o indecidível em Platão. Platão não é esse grnade sistema acabado que imaginamos que seja, totalmente perfeito, inteligível, sensível, tudo mais. Existe ali um ponto, uma pedra angular, uma palavra, um termo específico que dá essa nuance toda para o sistema platônico. E assim Derrida vai fazer com toda a filosofia. É como se ele pegasse um fio de um sistema filosófico que está consolidado e desconstruísse aquele sistema a partir do fio para mostrar as aporias, as contradições, as nuances. Esse é o modo pelo qual, a partir da filosofia da desconstrução, temos que pensar o outro. Temos que pensar processo subjetivo. Sempre que há algo muito pétreo, muito acabado, muito cristalizado no processo subjetivo e nas nossas relações com os outros, é sinal de alguma coisa está errada. Se estou definindo muito claramente o que é uma pessoa, o que é outra, o que é um modo de vida, o que é outro, alguma coisa está errada. A base da inspeção da desconstrução de Derrida é colocar sempre esse ponto de interrogação, ficar sempre tentando manter essa suspensão, que ele chama de suspensão indecidível.
Tem muitas questões aí, estou trazendo Derrida logo no começo porque ele é um autor central para tudo que chamamos hoje em dia de teorias decoloniais – todas as teorias que são críticas dos processos de colonização da subjetividade, sexualidade, mente, cultura, chamadas teorias decoloniais, que vêm das teorias pós-coloniais – porque elas vão desconstruir os padrões cristalizados, entificados, eurocêntricos, heteronormativos, que formam a nossa mentalidade ocidental e que se espalharam por todo o resto do mundo.
A Spivak, filósofa indiana, uma das criadoras da noção de lugar de fala, também, outro termo muito circulado hoje em dia, é tradutora do Derrida na Índia. A teoria derridadiana, vai atravessando e vai formar todas essas filosofias da diferença, que têm várias implicações políticas, ideológicas, de gênero, étnicas, antropológicas, culturais, e que vão, que têm se tornado cada vez mais evidentes, felizmente, hoje em dia, para termos debates cada vez mais ricos e interessantes sobre o que é o outro, sobre definições do outro e da alteridade.
E também, no mesmo sentido de Derrida, essas filosofias da desconstrução também têm a ver com a teoria queer, com teorias de gênero e tudo mais. Essa ideia básica que, posta lá nos antigos, de que existe uma substância imutável que define o ser enquanto tal, que define a “rodriguidade” do Rodrigo, isso começa a erodir. Vamos ver isso em Deleuze e Guattari no próximo encontro. Ela começa a se erodir, ela começa a se multiplicar em diversas diferenciações que são muito centrais para tudo. Elas não são meramente secundárias, etiquetas que se cola num ser que já está pronto. Essa crítica vem informando toda a filosofia moderna. A gente tem esse processo de diferenciação e desconstrução do pensamento que é muito potente em Heidegger. Em Lévinas isso assume uma dimensão, quase um compromisso com o infinito e com a subjetividade, com a alteridade, porque para Lévinas a alteridade passa necessariamente pelo rosto do outro. E em Derrida a gente tem essa noção de uma grande filosofia da diferença. Todos os processos são infinitamente diferenciáveis, é como se toda a diferenciação estivesse alterando a essência de cada ser, desde o mais simples ao mais complexo, seres humanos, agregados humanos, indivíduos, coletivos, culturas e tudo mais.
Isso tem uma demarcação também. Só para fechar um pouco minha linha de raciocínio hoje, Derrida vai identificar algumas questões na metafísica antiga, nessa metafísica da substância, da Antiguidade, mas são basicamente três questões que Derrida nos coloca que ele vai trazer como problemáticas: o fonocentrismo, o falocentrismo e o logocentrismo.
Falocentrismo, não preciso nem dizer. Toda a cultura heteronormativa formada desde muito antes dos gregos, toda a cultura mesopotâmica, desde Gilgámesh, a primeira narrativa em que existe uma emergência do masculino enquanto tal e uma ruptura com as deusas gregas matrilineares da antiguidade arcaica. Então a gente tem que pensar aí nesse falocentrismo que já vem de 5 mi, 6 mil anos. Talvez até desde o sedentarismo. Derrida vai se posicionar e pensar “bom, será que boa parte daquilo que a gente chama de filosofia, ou a construção dos sistemas, não está muito comprometida com esse falocentrismo?” Que é o que depois as teorias de gênero também vão trazer.
Logocentrismo, também algo relativamente simples de compreender. O “logos”, a razão, ou seja, uma centralidade da razão, normatização, pureza racional, e como isso é um discurso construído pela filosofia e depois vai se exponencializando, se distribuindo para o mundo inteiro como uma centralidade da razão enquanto valor.
E o fonocentrismo, que talvez seja um conceito mais contraintuitivo e mais esquisito de Derrida, que diz respeito a uma centralidade da fala. Aí também a filosofia da desconstrução de Derrida vai dar uma saída bastante estranha, mas basicamente o que ele diz é que a escrita é anterior à fala. Nosso aparelho fonador demorou, ele é feito bastante recente na história da vida e dos hominídeos. Toda essa tecnologia que foi sendo desenvolvida desse aparelho fonador, até nossas primeiras culturalidades, o uso da glote para a configuração das línguas chamadas “naturais” (porque de natural não têm nada, são tecnologias imanentes ao corpo humano), nós temos um mito, que é uma metafísica, que é ligada à fala. A fala pressupõe a presença substancial de alguém que fala. Derrida vai começar a imaginar o seguinte, por que a escrita é anterior à fala? Os animais escrevem, os signos da natureza são escritos. Eu posso seguir rastros, pegadas, signos olfativos, visuais, a maneira pela qual os animais se acasalam está ligada à escrita, não à fala. Todos os processos da natureza estão ligados a inscrições no mundo, não necessariamente à fala. Então ele vai inverter essa lógica da centralidade daquele que fala e isso tem muitas implicações, porque, para Derrida, quando lemos um texto, estamos sempre imaginando o autor daquele texto como alguém, um sujeito na sua quididade, um Rodrigo com sua “rodriguidade”, na sua essência escrevendo aquele texto. Se minimizarmos isso, vamos entender que todo texto é um devir, uma transformação, uma disseminação de outros textos. É como se a produção textual, esse processo de significação, fosse se infinitizando, porque não há um começo, nem um fim. Não é à toa que Derrida tem uma importância central para a teoria da literatura, quase que revolucionário o que ele propõe em termos de literatura, porque a literatura, a linguagem atravessa os autores, mas não começa com o autor, porque ele é só uma fala. A fala tem que ser minimizada por uma escrita que vem antes do autor, que vem antes dele e tem sua destinação para o leitor etc.
Para fechar mesmo de vez, essa questão do Derrida, não sei em que medida ficou claro, mas à medida que estamos o tempo todo pensando nessa indecidibilidade, no interstício, naquilo que ainda não é, estamos pensando no processo de diferenciação constante do mundo, da realidade e do humano enquanto tal.